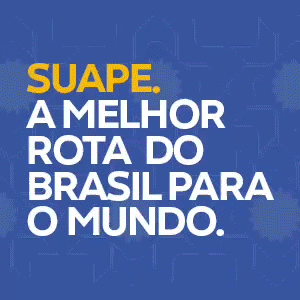Do Estadão – Os republicanos adoram atribuir tudo o que consideram errado com os Estados Unidos a uma epidemia de “lacração”, termo que tendem a empregar como sinônimo de qualquer coisa que cheire a virtude vaidosa ou ao politicamente correto. Assim, uma ponte sobre o porto de Baltimore desabou no início deste ano, não porque foi atingida por um navio de carga descontrolado, como pode ter parecido, mas porque um dos seis comissários do porto próximo é uma mulher negra cuja empresa de recursos humanos ajuda empresas a avaliar a diversidade de suas forças de trabalho, entre outras coisas — ou assim afirmou um candidato republicano ao governado de Utah. Donald Trump, ao aceitar a nomeação republicana para presidente em julho, culpou a liderança “lacradora” pelas falhas das forças armadas americanas. A plataforma oficial do partido este ano reclama do “governo…lacrador” estimulando processos com motivação política. A implicação é que as atitudes lacradoras estão proliferando, e que apenas os republicanos podem conter sua ascensão.
Na verdade, a discussão e a adoção de visões lacradoras atingiram o pico nos EUA no início da década de 2020 e diminuíram acentuadamente desde então. A Economist tentou quantificar a proeminência das ideias lacradoras em quatro domínios: opinião pública, mídia, ensino superior e negócios. Em quase todos os lugares que olhamos, uma tendência semelhante surgiu: a lacração cresceu acentuadamente em 2015, quando Donald Trump apareceu na cena política, continuou a se espalhar durante o subsequente surgimento do #MeToo e do Black Lives Matter, atingiu o pico em 2021-22, e vem diminuindo desde então. A única exceção é a lacração corporativa, que decolou apenas após o assassinato de Floyd, mas também recuou nos dois anos mais recentes.
“NÃO HÁ MOVIMENTO”
Regina Jackson e Saira Rao alcançaram um grau de fama em 2020 no auge da reação popular depois que a polícia matou George Floyd, um americano negro desarmado acusado de comprar cigarros com uma nota falsa de US$ 20. Por uma taxa alta, mulheres brancas ricas contratavam a dupla para ajudá-las a confrontar preconceitos inconscientes em jantares que apresentavam brincadeiras do tipo “Levante a mão se você é racista”. Os convidados podem ter caído em lágrimas quando souberam que suas frases feitas de quem se diz indiferente aos tons de pele eram apenas mais um tijolo no edifício da supremacia branca, mas houve muito interesse. As duas mulheres apareceram em muitas reportagens e fizeram um filme sobre seus jantares, “Desconstruindo Karen”, no qual uma participante culpada confessa: “Sou uma mulher branca progressista. Somos certamente as mulheres mais perigosas”.
A atenção da mídia diminuiu desde então. O mais recente evento “Race2Dinner” aconteceu há um ano. A dupla agora apresenta exibições do filme. O problema, diz Saira, não é apenas que elas estão fartas de ter que “sentar em frente a uma pessoa branca para dizer a ela por que não pode chamar as pessoas pelo termo que começa com N”. É também que o interesse público nas questões de injustiça racial esfriou. “O ímpeto do antirracismo, anticolonialismo, anti-imperialismo, antigenocídio está morto. Não há movimento”, lamenta Saira.